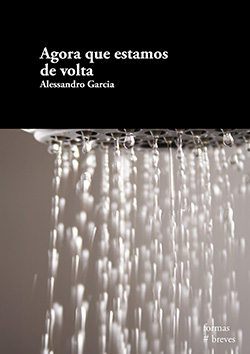Assistindo a Hannah e Suas Irmãs uma primeira vez, eu havia comentado com o Fred (que, por sinal, me emprestou o filme), o quanto a presença do personagem de Woody, Mickey Saxe, um diretor de TV neurótico e hipocondríaco se apresenta quase como um “quebrador de clima” em todas as suas aparições. Sem analisar toda a representatividade das personagens de Woody Allen em seus filmes e o significado mais profundo disto, toda vez que Mickey surgia na tela eu me sentia um tanto incomodado com suas neuroses por demais exageradas, sua agitação contrapontual em relação à atuação de todos os outros personagens na trama. Mickey me parecia como um personagem injetado e um tanto perdido no meio daquela trama. Sua comicidade e seu nervosismo exagerados iam, nesta minha primeira análise, de encontro deveras exacerbado à suavidade que representava, por exemplo, a personagem Hannah, papel de Mia Farrow.
Assistindo a Hannah e Suas Irmãs uma primeira vez, eu havia comentado com o Fred (que, por sinal, me emprestou o filme), o quanto a presença do personagem de Woody, Mickey Saxe, um diretor de TV neurótico e hipocondríaco se apresenta quase como um “quebrador de clima” em todas as suas aparições. Sem analisar toda a representatividade das personagens de Woody Allen em seus filmes e o significado mais profundo disto, toda vez que Mickey surgia na tela eu me sentia um tanto incomodado com suas neuroses por demais exageradas, sua agitação contrapontual em relação à atuação de todos os outros personagens na trama. Mickey me parecia como um personagem injetado e um tanto perdido no meio daquela trama. Sua comicidade e seu nervosismo exagerados iam, nesta minha primeira análise, de encontro deveras exacerbado à suavidade que representava, por exemplo, a personagem Hannah, papel de Mia Farrow.Ao contar com a maestria de diretor a história de Hannah, esta mulher tão perfeita que suas irmãs chegam a se sentir ofuscadas, perdedoras perto dela, Woody Allen consegue todo aquele clima tão típico dos filmes seus, em que Manhattan se comporta não somente como um cenário, mas quase como um personagem, tão importante são as cenas em que as andanças por suas ruas se mostram em primeiro plano. Situado com soberba entre a comédia não-escrachada, o romance e o drama, o filme segue mostrando as malsucedidas tentativas de Holly, interpretada por Dianne Wiest, em superar os azares da vida, em conseguir se dar bem (ou se dar bem aos olhos de Hannah, tão importante é para Holly a opinião de sua irmã) na carreira de atriz ou encontrar o homem da sua vida. Não bastasse o fato de ter sido viciada em cocaína, Holly é quase a perdedora nata, a irmã pouco brilhante. Em outro ponto, temos Lee, interpretada por Barbara Hershey, a irmã linda casada com um pretensioso intelectual muito mais velho e que acaba por se tornar o objeto de desejo de Elliot, interpretado por Michael Caine.
Por vezes todos, mais do que amar, parecem somente respeitar Hannah. Admirá-la por sua consagrada carreira como dramaturga é certo, no entanto, a redoma de perfeição na qual todos acusam Hannah de se envolver e lhe tornar tão irritantemente competente e bem sucedida é fato não somente exposto por suas irmãs, mas também por Elliot. Em impagável atuação, se toma de amores (em uma óbvia e inconsciente tentativa de fuga do casamento por ele considerado maçante) por Lee como um menino. Finge encontro casual pelas ruas e a leva a uma livraria para presenteá-la com um livro de ee cummings. Seleciona poemas especiais para sua amada. Está enlevado e Lee, enternecida por seu afeto, mas confusa por não querer magoar a irmã, não sabe como se comportar.
Em meio a tudo isto, temos Michael Saxe que começa a se questionar sobre o sentido da vida depois de um falso diagnóstico de câncer no cérebro. O personagem de Woody Allen é o seu típico. Nervoso, agitado, a própria figura cômica do hipocondríaco desesperado. Certo que protagonista de maravilhosas cenas, como quando a procura de um conhecimento que lhe justifique a existência, o judeu (não praticante) decide se converter ao catolicismo. Depois de falar com um padre, chega em casa com o seu kit, que começa a retirar de dentro de um saco de papel: um crucifixo, um retrato da Virgem Maria, um pote de maionese e um pacote de pão. Suas aparições são de tanto histrionismo que, a meu ver, destoavam do resto do filme que até então, se conduzia leve e com um humor tranqüilo. As próprias cenas que mostram o que era o seu casamento com Hannah – quando, desesperados para ter um filho, e já que Michael tem baixa contagem de espermatozóides, pedem a um amigo que seja o doador de sêmen – pareceram-me trechos quase à parte do filme. É como se seu personagem tivesse aquela função conhecida como “alívio cômico” de uma trama que, sob minha opinião inicial, não careceria da existência do seu personagem.
 Opinião não tardiamente retratada, principalmente depois de assistir Dirigindo no Escuro e rever o típico personagem de Woody Allen, o artista intelectual neurótico, mais uma vez. Sendo desbragadamente uma comédia, parte, no entanto, de uma premissa básica bem simplória, não obstante o caráter sofisticado sempre associado aos filmes de Allen. Seu personagem Val Waxman é um diretor de cinema que não se encontra na melhor de suas fases. A grande oportunidade para reerguer sua carreira parece surgir quando sua ex-esposa Ellie (a linda Téa Leoni) convence o seu atual marido, um figurão de Hollywood, a deixar Waxman dirigir o novo filme de sua produtora. O que vai aqui no filme de Allen é, desde sempre, aquela crítica à indústria de Hollywood. Sem se aprofundar muito, no entanto. Mas não faltam as ironias a Spielberg e quetais. Seu personagem é o gênio, o realizador de jóias intelectuais, o único, portanto, apto a dirigir um filme como “Manhattan” (o nome do filme que deve ser realizado por ele). Como cabe ao diretor tornar crível aos espectadores o universo por ele criado, nos tornar cúmplices da sua visualização cinematográfica, fazer-nos crer no que não está ali, é preciso que tenha controle de tudo, que estabeleça, obviamente, a ordem sobre todos no set de filmagem – enfim, que tenha a visão sobre o processo. No entanto, como fazer isto estando cego? Eis o problema de Waxman. Perder a visão quando já iniciadas as primeiras filmagens em decorrência de um transtorno psicossomático. O diretor está cego, incapaz de manipular os elementos ao seu redor a fim de concluir o seu filme. Porém, é preciso fazer o filme. O agente lhe convence da necessidade disto – é talvez a sua última chance na indústria! – Waxman se deixa convencer. Como que conduzido. Certo é que sua capacidade frente à sua esposa está em jogo, sua vaidade está em jogo. O “detalhe” precisa ser driblado. É preciso fazer com que sua condição de cego passe despercebida. Que ninguém perceba sua incapacidade.
Opinião não tardiamente retratada, principalmente depois de assistir Dirigindo no Escuro e rever o típico personagem de Woody Allen, o artista intelectual neurótico, mais uma vez. Sendo desbragadamente uma comédia, parte, no entanto, de uma premissa básica bem simplória, não obstante o caráter sofisticado sempre associado aos filmes de Allen. Seu personagem Val Waxman é um diretor de cinema que não se encontra na melhor de suas fases. A grande oportunidade para reerguer sua carreira parece surgir quando sua ex-esposa Ellie (a linda Téa Leoni) convence o seu atual marido, um figurão de Hollywood, a deixar Waxman dirigir o novo filme de sua produtora. O que vai aqui no filme de Allen é, desde sempre, aquela crítica à indústria de Hollywood. Sem se aprofundar muito, no entanto. Mas não faltam as ironias a Spielberg e quetais. Seu personagem é o gênio, o realizador de jóias intelectuais, o único, portanto, apto a dirigir um filme como “Manhattan” (o nome do filme que deve ser realizado por ele). Como cabe ao diretor tornar crível aos espectadores o universo por ele criado, nos tornar cúmplices da sua visualização cinematográfica, fazer-nos crer no que não está ali, é preciso que tenha controle de tudo, que estabeleça, obviamente, a ordem sobre todos no set de filmagem – enfim, que tenha a visão sobre o processo. No entanto, como fazer isto estando cego? Eis o problema de Waxman. Perder a visão quando já iniciadas as primeiras filmagens em decorrência de um transtorno psicossomático. O diretor está cego, incapaz de manipular os elementos ao seu redor a fim de concluir o seu filme. Porém, é preciso fazer o filme. O agente lhe convence da necessidade disto – é talvez a sua última chance na indústria! – Waxman se deixa convencer. Como que conduzido. Certo é que sua capacidade frente à sua esposa está em jogo, sua vaidade está em jogo. O “detalhe” precisa ser driblado. É preciso fazer com que sua condição de cego passe despercebida. Que ninguém perceba sua incapacidade. É uma comédia, eis. A verossimilhança se torna nula, todos que rodeiam Waxman se deixam ignorar de sua cegueira. Há um esforço para isto. Mesmo que ele se cerque de recursos para enganá-los, isto não é necessário. Sua atitude que parece excêntrica é justificada por ele ser um gênio, o diretor de arte oriental que não fala inglês é mais um no set para causar transtorno. A utilização de um tradutor (que vem a ser o ajudante de Waxman na impossibilidade de seu agente adentrar o set) a todo momento torna tudo tão caótico porém compreensível no seu perfeito caos. Não obstante a incomplexidade de entender suas ações, suas tomadas estranhas, a má direção de seus atores, o que se sabe é que ao final Waxman terá realizado a sua obra. Fará mágica na edição. É o tipo de filme que ele faz “até cego”.
É uma comédia, eis. A verossimilhança se torna nula, todos que rodeiam Waxman se deixam ignorar de sua cegueira. Há um esforço para isto. Mesmo que ele se cerque de recursos para enganá-los, isto não é necessário. Sua atitude que parece excêntrica é justificada por ele ser um gênio, o diretor de arte oriental que não fala inglês é mais um no set para causar transtorno. A utilização de um tradutor (que vem a ser o ajudante de Waxman na impossibilidade de seu agente adentrar o set) a todo momento torna tudo tão caótico porém compreensível no seu perfeito caos. Não obstante a incomplexidade de entender suas ações, suas tomadas estranhas, a má direção de seus atores, o que se sabe é que ao final Waxman terá realizado a sua obra. Fará mágica na edição. É o tipo de filme que ele faz “até cego”.Certo é que por vezes tantas situações são perdidas por falta de timming. Existe uma boa vontade prévia por ser um trabalho de Woody Allen. O autor que se preza por se distanciar da indústria comum de entretenimento com suas obras beirando as produções européias. Dirigindo no Escuro não é nenhuma obra de arte muito diferente de outras comédias lançadas no circuito normal. Existe a embalagem Woody Allen, o verniz, é certo. Mas que me possibilitou enxergar com mais clareza este “tipo” do autor (por minha mãe considerado irritante e muito passível de outras avaliações de tal ordem), antes por mim desprezado em Hannah e Suas Irmãs.