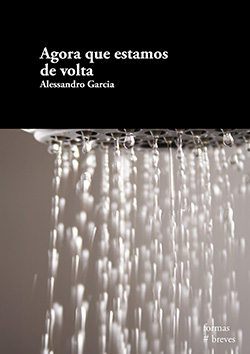Destituindo-se daquele “orgulho brasileiro” quase inevitável, mas com a dose errada de patriotismo que só serve para embaçar o senso crítico, pode-se enxergar em Água Negra mais do que, forçosamente, “um filme de Walter Salles”. Até por que não se trata disso: Água Negra é um filme dirigido por Walter Salles, mas não “de” Walter Salles, diferenciação mais do que necessária para se compreender talvez o porquê das limitações criativas que se encontra na obra.
Limitações que, no entanto, não o deixam menor em sua opção narrativa, desde o princípio optando por uma abordagem pelo inusitado viés mais humano do que sobrenatural. Assim, não é difícil se deixar levar pelos complicados percalços na vida de Dahlia (a lindíssima e sempre competente Jennifer Connelly), que depois de se separar do marido (Dougray Scott), encontra na decadente região de Roosevelt Island, anexo pobre de Manhattan, o único apartamento que se encaixa dentro de seu modesto orçamento. É para o brutalista e deprimente apartamento caindo aos pedaços que se muda com sua filha Ceci (Ariel Gade, um achado) e onde tenta reestruturar sua vida em meio às brigas do processo de divórcio e da intransigência de seu ex-marido pela guarda de sua filha.
É na angústia da protagonista Dahlia que Walter Salles mais profundamente se concentra. Não bastasse o inferno conjugal no qual está afundada, uma série de problemas domésticos se intensifica para atazanar ainda mais sua vida. São as máquinas de lavar, a infiltração hedionda que não cessa de crescer em seu quarto e a maldita água negra que se embrenha por todos os dutos e goteiras. Mr. Murray (John C. Reilly), administrador do prédio, encarna o malandro com suas burocracias, que em um primeiro momento seduz com um apartamento mais acessível e em seguida esgota a paciência com a não-resolução dos problemas e o empurra-empurra para cima do rabugento zelador e faz-tudo Veeck (Pete Postlethwaite), que por vezes nos faz temer pela segurança de Dahlia.
Os elementos sobrenaturais vão se encaixando gradualmente – até então, somente o sofrimento real de Dahlia já nos justifica suas paranóias, sua constante depressão e sua dificuldade de lidar com uma Ceci que inventa uma amiguinha imaginária para piorar ainda mais as coisas. Quando constatações de que elementos além do natural estão se impondo na vida das duas, fica a dúvida de até que ponto o que acontece é crível ou conseqüência da mente perturbada de uma Dahlia com um histórico familiar nada benéfico para sua saúde mental.
Equilibrar estas dicotomias não seria tarefa fácil para uma atriz de menor bagagem que Connelly. A atriz mais do que dá conta do recado: a mãe carinhosa em embate contra, talvez, a própria sanidade, comove e dá forças ao que, em mãos menos hábeis, seria o estereótipo da sofrida mãe assustada de filme de horror. Certo é que existem elementos mais do que eficientes para lhe ajudar nesta empreitada (não obstante a mão firme de Salles): a trilha sonora envolvente e sutil de Angelo Badalamenti (habitual colaborador dos filmes de David Lynch), se distancia dos riffs mais ou menos usuais que antecipam os sustos que, neste filme, ocorrem em doses menos fartas que a maioria do gênero. A fotografia de Affonso Beato constrói um ambiente claustrofóbico e opressor, assim como a direção de arte, ótima ao ressaltar escadarias escuras, paredes mal pintadas, concreto frio e a falta de aconchego daquele apartamento. Completando, há a edição ágil de Daniel Rezende, de Cidade de Deus.
O problema final reside em um fato que começa a se tornar quase um subgênero fílmico em hollywood. O filme é uma refilmagem de Honogurai mizu no soko kara (de Hideo Nakata, 2002, que também dirigiu o original O Chamado), e seu final, tal qual O Grito, acaba rumando para aquela previsibilidade que sempre tem relação com crianças mortas à procura de quem lhes dê carinho. A diferença aqui – e presumo que a película original também trilhe este caminho, senão, ainda maiores congratulações se for uma alternativa desta versão dirigida por Salles – é a coragem na realização de um término que não necessariamente se atém àquele clássico “final feliz”. Por que a felicidade de um não necessariamente é a felicidade de todos (mesmo que sempre exista alguém altruísta em demasia).