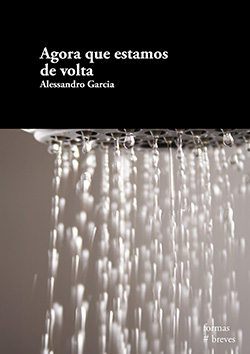Gênios precoces da literatura são praticamente um gênero na indústria editorial americana. Quando não conseguem superar o sucesso do primeiro livro, diz-se que sofrem da Síndrome Françoise Sagan (escritora francesa que nunca superou o sucesso de de Bonjour Tristesse, sua estreia aos 18 anos). As obras deste jovens prodígios surgem normalmente cercada de blurbs comparativos em suas capas, com clássicos estabelecidos sendo utilizados para situar o potencial leitor. Quase sempre, estratégias mercadológicas, do tipo: “Um tocante retrato da juventude como não se via desde ‘O Apanhador no Campo de Centeio’.” . Esta é a frase que você encontra na capa de Doze (Geração Editorial, 232 pgs.), romance de estreia do nova-iorquino Nick McDonell, lançado em 2002. Escrito quando o autor tinha somente 17 anos de idade, o livro, exageros de comparação à parte, merece parte dos incensados elogios da crítica.
Através de capítulos curtos, diálogos ágeis e bastante ação — ainda que muito naquela típica narrativa norte-americana que se aproxima do comercialismo de um Bret Easton Ellis e de roteiros cinematográficos —, o autor consegue trabalhar, com sensibilidade e alguma elegância de estilo notáveis para um jovem de sua idade, temas bastante utilizados: adolescentes ricos do Upper East Side, área nobre de Nova Iorque, com não mais interesses além de drogas, sexo e festas regadas aos dois primeiros.
“No sexto andar, um grupo de garotos está em volta de outro que está tocando bateria, montada num quarto de hospédes vazio. O ritmo da bateria é sofrível, em função das oito cervejas que o garoto já tomou. Várias cervejas — Corona Lights, Budweisers — estão espalhadas pelo chão em diferentes partes da casa. Seguindo o corredor pelo quarto onde está a bateria, um aparelho de som está tocando ‘Burn One Down’ de Ben Harper alto o bastante para que os garotos que estão no terraço fumando maconha possam ouvir. No quinto andar estão apenas dois garotos, um loiro e o outro de pele negra e cheia de espinhas, ambos pequenos e desmaiados em grandes sofás de couro, onde os amigos deixaram, entrelaçados e babando um no outro. No quarto andar, mais ou menos uns dez garotos estão sentados em frente a uma TV de tela plana assistindo filmes pornográficos. Um garoto, numa grande poltrona de couro, está com uma menina sentada em seu colo. Ambos olham alegremente para a tela, a mão direita do garoto pousada suavemente na metade esquerda do seio da menina.”
Em uma trama tão repleta de elementos pop, em um cenário estilizado ao registro da futilidade e transitoriedade, não é difícil entender a presença de uma cerveja como a Corona Light. Constante nas muitas listas das 10 cervejas mais vendidas no mundo — mesmo que esta pilsen sofra da mesma rejeição, pelos inciados, que toda bebida popular ao extremo — é uma versão mais leve da tradicional Corona Extra. Foi lançada primeiro nos Estados Unidos, em 1989, e só em 2007 no México, país de onde é originária. Pertencente à Cervecería Modelo — que lançou a tradicional Corona em 1925, hoje a marca mais valiosa do México —, a Corona Light é normalmente definida como uma cerveja refrescante, frisante, de acidez média e toques persistentes de limão. Uma leveza também presente nos seus 3,7% de teor alcoólico. Assim como sua irmã, ela é comumente atrelada ao hábito de ser consumida com um pedaço de limão no gargalo. Razão que teria surgido pelo fato da garrafa ser transparente, com exposição de luz muito maior, afetando, portanto, o sabor da bebida. O limão seria a estratégia para “melhorar” seu sabor.
Com seus 30% a menos de calorias que a versão original, talvez seja mesmo a escolha ideal para figurar no cenário de festas deste livro, onde as aparências dos esbeltos semi-deuses milionários de Manhattan — mesmo que diluindo-se em cafungadas e quase-overdoses — é algo sempre tão importante a se manter.
Publicado originalmente na HNB Mag.